Fantasmas do vôo gol 1907
- Tiago Abrantes
- 5 de nov. de 2015
- 11 min de leitura

Naquela Sexta Feira 29 de Setembro de 2006 houve um estrondo seco ao entardecer quebrando assim a rotina das 3 (três) aldeias de índios caiapós da reserva Capoto-Jarina, no norte do Mato Grosso, na margem oeste do rio Xingu. Na vila Capoto, os homens interromperam a caça e a pesca para olhar para o céu, onde as araras voavam assustadas. Na Metyktire (lê-se metutire), o líder Betâ Txucarramãe, o Wai-Wai, sentiu a terra tremer às 5 da tarde. “Deve ser uma dessas bombas que os militares costumam explodir na serra do Cachimbo”, pensou. Em Piaraçu, a matriarca Warê Juruna tomou um susto quando plantava mandioca na roça. “O som podia ser de um porco bravo, ou de um trovão, mas não havia sinal de chuva”, conta. Com medo, convocou as outras mulheres e correu para casa. À noite, só se falava no tal som misterioso entre os 1 000 habitantes do subgrupo caiapó chamado metyktire, que habita essa reserva de 635 hectares espalhada ao longo de 3 cidades mato-grossenses. Especialmente durante a reunião diária na roda dos homens, uma espécie de balanço das atividades do dia. A explicação viria no dia seguinte. Misto de cacique informal e pajé de Piaraçu, Bedjai Txucarramãe acordou dando uma resposta à sua esposa Warê Juruna: “Sabe o trovão que você ouviu ontem à tarde? Meu tio, que mora na aldeia dos espíritos, me visitou num sonho. Disse que um mudkó caiu na nossa terra”, relatou – mudkó (na língua caiapó, escreve-se màdkà), ou “casca de arara”, é como eles chamam avião. Aos 62 anos, Bedjai, maior autoridade entre os 150 moradores de Piaraçu, recebeu a confirmação às 6 horas do sábado, dia 30. A ligação chegou pelo telefone público do local: alguém vira na TV que um avião tinha caído na terra de seu povo.A ajuda dos guerreirosNão demorou para que, via rádio, a notícia chegasse a todos os mebêngôkre, nome pelo qual se reconhecem os caiapós: às 16h58 do dia anterior, um 737-800 da Gol, que fazia a rota 1907 Manaus-Rio, se chocou com um Legacy da Excel Airways, que voava de São José dos Campos para Manaus. Por uma série de falhas na comunicação, ambos estavam na mesma altitude, de 37 mil pés, cerca de 11 mil metros de altura. O impacto a 850 km/h fez com que o Boeing, com 154 pessoas, despencasse em espiral. A desintegração da aeronave aconteceu antes mesmo do choque com a floresta Amazônica dentro da reserva indígena Capoto-Jarina, próxima ao município de Peixoto de Azevedo.Começava a mobilização indígena em torno da maior tragédia da história da aviação brasileira. A reação foi orquestrada a partir de Colíder, centro pecuário 660 quilômetros ao norte de Cuiabá. Fica ali a Administração Regional da Funai, com 2 700 índios sob a responsabilidade de Megaron Txucarramãe. Às 7 horas do sábado, dia 30, ele voava em um táxi aéreo para uma reunião quando foi interceptado por duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e obrigado a voltar. A bordo também estava seu tio Raoni, cacique da aldeia Metyktire. Sim: aos 72 anos, Raoni é aquele índio botocudo que rodou 15 países em busca de verba para demarcar suas terras, em 1989, ao lado do cantor Sting. “Tinham começado as buscas pelo avião desaparecido”, lembra Megaron na conversa com a equipe de SUPER que viajou para ouvir a versão menos contada dessa história.
“Decidimos convocar nossos guerreiros mais fortes para irem ao local do acidente”, conta Megaron. Depois de solicitar as autorizações da Funai e da FAB, que comandava a operação militar de resgate, Megaron e alguns de seus auxiliares partiram numa 4x4 para 7 horas de viagem ao longo de 330 quilômetros esburacados. Cacique Raoni esperaria a liberação do espaço aéreo para voltar à aldeia – ele acompanhava a esposa recém-saída de um tratamento de diabetes (“o espírito dela saiu do corpo”, disse ele, referindo-se a um desmaio).
Guerreiros são os homens em idade madura, corpo forte e cabeça boa para participar das atividades que exigem coragem. E 22 deles estavam a postos, na manhã seguinte, pintados de jenipapo e carvão – além dos metyktires, palavra que significa “índio pintado de preto”, o grupo tinha também 3 jurunas e um kayabi. Carregavam bordunas e espingardas. Com fama de bravos desde as primeiros tentativas de contato, no século 19, os caiapós foram dos últimos selvagens a se renderem aos espelhinhos e panelas dos irmãos Villas Bôas, em 1953. Megaron, Bedjai e Wai-Wai, que trabalharam por muitos anos com os sertanistas, contam que os metyktires, antes chamados txucarramães, até chegaram a integrar o Parque Nacional do Xingu, criado em 1961. Mas não gostaram quando em sua área foi construída a antiga BR-080. Lutaram e conquistaram, em 1977, a reserva contígua ao parque.
Naquele domingo, os guerreiros tinham pressa. Era possível que existissem sobreviventes. Jogaram 3 lonas no caminhão, lanternas, redes, sal para conservar peixe. E começaram a percorrer mais 70 quilômetros com destino ao local de onde partira o estrondo dois dias antes. O acesso passava pela Fazenda Jarinã, e os índios logo tiveram certeza de estar no rumo certo. A sede da fazenda tinha virado o QG da Aeronáutica e estava repleta de jornalistas. Ali, o grupo ficou sabendo que dois corpos haviam sido resgatados, içados por helicópteros, e que não se esperava encontrar sobreviventes.
A compreensão de um acidente que tira repentinamente a vida de 154 pessoas não era difícil para os guerreiros metyktires. Em abril de 2004, 11 líderes jovens do grupo morreram em um acidente automobilístico na BR-163. Entre eles, Tedje Metuktire, de 35 anos, filho de Raoni que vinha sendo preparado para assumir o posto do pai. Mais de 1 000 índios compareceram ao ritual do enterro. Como reza a tradição, o cacique ficaria de luto por um ano, sem colocar os pés fora de casa. “Funerais mebêngôkre são verdadeiros dramas sociais, com choros cerimoniais impressionantes e cenas de autoflagelação entre as mulheres”, diz a antropóloga Vanessa Lea, da Unicamp, que desde 1978 pesquisa o grupo. Daí a importância que Megaron e seus homens deram ao episódio da Gol: “Faríamos tudo o que estivesse ao nosso alcance para amenizar a dor dos parentes”.
Para evitar descer à noite o rio Jarinã, estreito e sinuoso, os índios pernoitaram, sob as lonas, em sua margem. Na manhã da segunda-feira, dia 2, seguiram em duas embarcações a motor. Duas horas depois, desembarcaram com o intuito de montar o acampamento-base e preparar a alimentação. Um grupo de 9 guerreiros foi destacado para continuar descendo o rio em busca do ponto onde estaria o avião. Eles tinham as coordenadas exatas dos destroços - 10°29'24'' e 53°18'36'' oeste –, uma bússola e um GPS emprestados. Duas horas depois, acharam o local ideal, à beira-rio, para abrir uma picada na mata. O terreno se tornaria a base indígena por duas semanas, do dia 3, terça-feira, ao dia 16 de outubro.
O mesmo grupo dos 9, com Bedjai e Wai-Wai entre eles, fez a primeira investida na floresta a partir do novo acampamento ao lado do rio Jarinã, na madrugada da terça-feira, dia 3. Em 5 horas, foi aberta uma picada de 6,2 quilômetros, por mata densa e cheia de espinhos, até os primeiros destroços: assentos, bagagens, pedaços da aeronave. O calor de mais de 30 0C sob as árvores de 40 metros de altura era infernal. Além dos insetos, dos carrapatos e das abelhas, a sede era o maior tormento. “Quando finalmente encontramos um córrego, perto dos destroços, não pudemos beber água: o riacho estava cheio de combustível do avião”, conta Wai-Wai. Cabine, cauda e vários pedaços da fuselagem estavam espalhados por uma área de 4 km2. E, embora tivessem ouvido o barulho dos militares e dos helicópteros da FAB, nenhum contato foi feito. Preferiram seguir a ordem de Megaron, de reconhecer o terreno e não tocar em nada até que a Aeronáutica autorizasse. “Voltamos desesperados por água limpa e com necessidade de respirar um ar sem aquele cheiro de carniça.”
Na volta, todos correram para tomar banho no rio. Alguns vomitaram. Bedjai os aconselhou a esfregar no corpo a raiz de uma pequena palmeira que ajudaria a afastar os maus espíritos. Na roda noturna dos homens, o relato foi impactante. Bedjai contou que vira espíritos pedindo ajuda entre os destroços, tentando se comunicar com os vivos, e que teve que conter o choro ao encontrar um ursinho de pelúcia. Mas ressaltou que os guerreiros não poderiam fraquejar. “Os metyktires acreditam que os mortos podem se aproveitar quando os enlutados estão fracos, ou doentes, para levá-los para viver na aldeia dos mortos”, explica Vanessa Lea. Por isso Benadjori (“grande chefe”) Megaron já alertara: “Só quando os parentes pararem de sofrer é que esses espíritos, que agora estão perdidos na mata, vão seguir seu caminho”.
A quarta-feira, dia 4, foi de espera. Os caiapós haviam decidido aguardar a autorização de acesso, que chegaria pelo rádio que carregavam, movido a energia solar. Sem saber o que se passava no resgate “oficial” durante os 4 dias que levaram para chegar ao local da tragédia, resolveram abrir uma clareira de 300 m2 com seus 18 facões e 3 machados para que dois helicópteros pudessem pousar. Esforço em vão: pertinho da fuselagem do avião, os militares já tinham aberto, com motosserras, uma clareira que permitiria o pouso alternado dos 9 helicópteros destacados para a missão. Os restos mortais de pelo menos 50 pessoas já tinham sido localizados e retirados por aviões. A caixa-preta do Boeing já fora encontrada e até um grupo de 6 familiares de vítimas tinha visitado os destroços.
Mesmo sem respostas da Aeronáutica, o grupo avançou no dia seguinte. O cenário era desolador: “Os corpos estavam mutilados, alguns queimados, outros nus ou com roupas rasgadas. Vi cabeças separadas dos troncos. Olhos saltados, línguas pra fora. Imagens que nunca vão sair da minha cabeça”, contou Wai-Wai, na viagem de volta ao local do acidente com a equipe de SUPER no fim de novembro. “O cheiro era muito, muito ruim”, continua Ame-e Metyktire, apicultor de 31 anos que seguiu a recomendação dos chefes e entupiu as narinas com folhas de uma planta que chamam de ramre-ô. Quando não surgiam suspensos nos galhos, os corpos estavam enterrados no chão, em uma profundidade de 30 centímetros, como se tivessem sido arremessados de uma longa distância. Os índios dizem ter afugentado uma queixada e uma onça em busca de comida. E acharam curioso ver a quantidade de dinheiro encontrado. “Vi reais, dólares, pesos, euros”, diz Megaron, que, como seu tio Raoni fez no passado, virou uma espécie de embaixador caiapó que também esteve em 15 países. (Logo depois do acidente, o homem que substituiu Orlando Villas Bôas na direção do Parque Nacional do Xingu viajaria para Washington, como faz a cada dois meses, para uma reunião da ong Conservation International, da qual faz parte.)
Os donos da terra
O primeiro encontro com os militares foi tenso. “Soldados me cercaram e disseram que o acesso estava proibido”, diz Bedjai, tão invocado que nem parecia o carismático baixinho de um olho só (o outro ele perdeu numa flechada quando criança). “Respondi que a terra era nossa e que iríamos passar mesmo assim.” A contragosto, a cooperação aconteceria ao longo dos dias seguintes: quando um índio encontrava um corpo, marcava o local com uma estaca e corria para avisar um oficial. Bedjai ficou surpreso com a parafernália que fazia soldados parecer robôs, com roupas e máscaras especiais. Segundo alguns caiapós, que repetiram a trilha pelo menos 12 vezes vestidos apenas com calça, camisa e sandálias de borracha, aquilo parecia prejudicar a visão e o movimento dos militares, a ponto de eles se perderem com facilidade na mata, chegando até mesmo a não perceberem quando tinham passado ao lado de um cadáver. Bedjai ficou intrigado com um dos corpos: “Eu já tinha visto aquele homem”, contou. Mais tarde, descobriria tratar-se do antropólogo alemão Andreas Kovalski, que já havia estado em sua casa.
A demarcação de território era, além da solidariedade pela tragédia humana, o outro motivo da insistência caiapó em permanecer ali. “Nossos avós já sofreram demais ao ver as terras invadidas pelos brancos”, diz Megaron. “Até hoje os fazendeiros de soja, os madeireiros e os garimpeiros rondam os lugares onde temos madeira boa, caça e peixes à vontade”. O histórico dos caiapós indicava que eles não arredariam pé facilmente. Em tempos em que as guerras tribais viraram coisa do passado (a última foi contra os panarás, em 1967, com mais de 50 mortos), sua bravura foi demonstrada em episódios como a morte a golpes de bordunas de 11 peões acusados de desmatar terras indígenas, em 1980, ou na interditação da ligação rodoviária entre o Mato Grosso e o Pará, em julho de 2006, para protestar contra o impacto ambiental de um novo trecho asfaltado.
Só no dia 10 de outubro, 11 dias após o acidente, a ajuda dos índios foi aceita oficialmente. O coordenador-geral da operação, major-brigadeiro-do-ar Antônio Gomes Leite Filho, pousou de helicóptero na clareira aberta pelos índios à beira do rio Jarinã. Agradeceu pelo trabalho voluntário, presenteou Megaron com um alicate e convocou o grupo a se empenhar na busca dos 12 corpos que faltavam. “A terra é de vocês, que a conhecem melhor que nós”, disse o brigadeiro. Dias depois, o comandante disse que só tomara conhecimento da solicitação dos índios uma semana depois do acidente.
Para o comando da Aeronáutica, que dispôs de uma estrutura que incluía mais de uma dezena de aeronaves que levaram até sorvetes aos soldados, a participação indígena foi pífia. Na contabilidade oficial, apenas dois corpos foram encontrados pelos caiapós. Megaron tem outro número: os guerreiros localizaram ao menos 30 corpos. O brigadeiro também argumentou que “um dos motivos pelo qual a presença dos índios não foi bem-vinda nos primeiros dias foi o fato de não chegarem sozinhos”. “Eles estavam acompanhados de uma civil, portando equipamento fotográfico, que abordou os soldados como se investigasse um crime ambiental”, diz, referindo-se à representante de um pequeno jornal local que havia se juntado aos caiapós. “Estávamos diante de uma tragédia humana. E a área foi proibida a jornalistas e civis para evitar registros das imagens dos corpos.” (Leite garante que nenhum dos 700 homens envolvidos na operação divulgou fotos – as que circularam na internet seriam de outro acidente.)
A aprovação da Aeronáutica ao trabalho dos índios mudou a rotina dos guerreiros. Eles passariam, na última semana, a usar máscaras e luvas fornecidas pela FAB, ampliariam as clareiras, fariam buscas em pontos mais remotos. Ganhariam até bolachinhas e amendoins doados pela Gol. No acampamento à beira-rio, outros guerreiros trouxeram de roupas a comida: arroz e farinha acompanhavam a carne de piranhas, macacos, antas e tatus, sempre moqueadas (assadas por defumação) para que durassem mais tempo. Jacarés, capivaras e ariranhas também foram vistos – “mas esses bichos a gente não come”, explicou Megaron. No dia 16 de outubro, quando só restavam dois corpos perdidos, os índios deram o trabalho por encerrado. Os militares passariam mais um mês ali, com cães farejadores, até os últimos restos mortais serem localizados. Antes de partir, queimaram partes do avião, inclusive a cabine, para evitar saques futuros. A bem-intencionada missão caiapó terminava após 17 dias de isolamento bem distantes das câmeras de TV. E os guerreiros metyktires voltaram para a discreta rotina de suas aldeias.
Ritual para as almas
Os militares da FAB bateram em retirada em 17 de novembro. No dia seguinte, os caiapós voltaram ao local dos destroços com uma última missão: realizar um ritual pelo espírito dos mortos. Antes de pegarem a trilha, leram a carta enviada pelo parente de uma vítima. No caminho, repararam que restavam na mata, além dos destroços, placas de computador da empresa Gigabyte e emplastros e bisnagas da pomada Salonpas – os produtos faziam parte da carga levada pelo avião que caiu na floresta.
O ritual não durou mais do que 20 minutos. Em silêncio, os índios se pintaram com jenipapo e urucum. Liderados por Wai-Wai, formaram um círculo e entoaram canções, normalmente utilizadas em rituais de nomeação dos jovens ou enterro de caiapós mais velhos. Dançavam no sentido anti-horário, batendo forte os pés no chão. No final, cada homem colocou seu adereço de cabeça, feito de inajá, bem diante dos destroços. Posaram para a foto de SUPER e partiram, em silêncio, como se quisessem sair logo dali.
Na volta, uma surpresa. Uma capelinha tinha sido erguida em pleno território indígena. O índio Bepkameti parou para observar a estátua de Nossa Senhora Aparecida. “Você sabe quem é?”, perguntei. Ele acenou negativamente. “É a santa padroeira do Brasil”, respondi. Foi como se falasse grego. Bepkameti deve ter entendido melhor o discurso de Bedjai na roda noturna. O líder comemorou o fato de os pássaros terem voltado a cantar, o que não acontecia desde o acidente. E comunicou, aliviado, não ter visto mais espíritos entre os destroços.

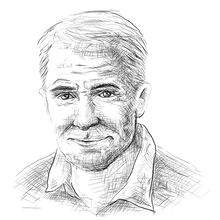



Comments